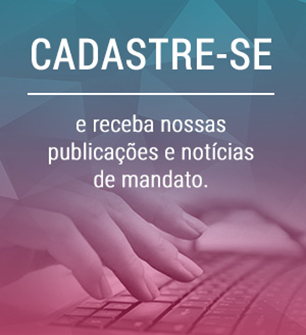Maria Cristina Fernandes: “O sindicato contra o PT ianque”

A vitória de Trump constrói as bases de uma direita com base popular a partir do cinturão industrial e desnorteia sindicalismo americano
Valor Econômico – 18/11/2016
Quarenta e oito horas depois do resultado da disputa pela Casa Branca, a senadora pelo Partido Democrata em Massachussets Elizabeth Warren subiu à tribuna da sede da AFLCIO, sigla em inglês para Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, fusão que forma a maior confederação laboral americana, para dar seu veredito sobre a eleição de Donald Trump. A senadora de 67 anos é uma novata no Congresso americano. Assim como o presidente Barack Obama, trocou um posto na escola de direito em Harvard pelo Senado numa campanha marcada por sua militância, como advogada, pelos direitos do consumidor.
De cara lavada e sem maquiagem, Elizabeth Warren foi apresentada por Richard Trumka, um descendente de poloneses que chegou à presidência da federação pelo sindicato dos carvoeiros, como a mais afinada representante dos interesses da entidade. Num momento em que muitos democratas ainda se ocupavam em lamentar o resultado, a senadora deu um passo adiante ao associar a campanha de Bernie Sanders (précandidato democrata derrotado nas prévias), financiada com pequenas contribuições de muitas pessoas, e a de Donald Trump, que decidiu gastar seu próprio dinheiro para se eleger: "Eles quiseram passar a mesma importante mensagem, a de que não poderiam ser comprados".
A senadora foi uma das principais críticas à reação do Congresso americano à crise de 2008, por achála leniente com o sistema financeiro ("too big for trial") e é considerada uma das alternativas dos democratas para 2020. Naquele dia disse que não tergiversaria na intolerância, mas colocaria as diferenças de lado para colaborar com os objetivos do presidente eleito, que reconheceu como genuínos, de chacoalhar a economia e trazer para dentro das fronteiras do país as oportunidades de emprego geradas pelo investimento americano.
A agilidade com a qual a senadora e a AFLCIO reagiram à investida de Trump sobre o velho cinturão industrial americano contrasta com a animosidade do discurso da véspera, em que o presidente eleito foi considerado pela entidade o candidato mais antissindical desde Ronald Reagan (198189). O presidente americano mais popular do século XX quebrou, no primeiro ano de seu governo, o sindicato dos controladores de voo ao enfrentálos numa greve com demissão em massa e banimento do serviço público federal.
Num comício na Pensilvânia, um dos Estados que acabaria por tomar dos democratas, Trump dirigiuse à multidão: "Quantos de vocês aqui são da AFLCIO?". Face ao silêncio, continuou:" OK, não há muitos. E onde estão vocês?". No dia seguinte, o Twitter da federação respondeu: "com@hillaryclinton".
Entre as poucas entidades não filiadas à AFLCIO a endossar Trump está o sindicato dos serviços de imigração que, pela primeira vez, deu publicidade ao seu apoio numa disputa presidencial. Entre as promessas que cativaram os trabalhadores está o fim da anistia para imigrantes ilegais. Outro a anunciar apoio foi o "Ordem Nacional Fraternal de Polícia", o maior sindicato policial do país. Tradicional aliada republicana, a entidade ficou neutra em 2012 por discordar da oposição do então candidato do partido, Mitt Romney, aos contratos coletivos. Quatro anos depois, foi capturada pela linhadura de Trump.
No relato do comício, a página da federação na internet descreveu um Trump em rota de aproximação ao elogiar a resistência de Bernie Sanders aos tratados comerciais dos quais os Estados Unidos são signatários. O então candidato não se deteve no argumento de que salários mais altos prejudicam a competitividade do país e de suas próprias empresas.
Na sua campanha antiTrump, a AFLCIO propagou que, a despeito da crítica aos exportadores de emprego, as empresas do presidente eleito, hoje gerenciadas pelos filhos, terceirizam a produção para Ásia e América Central. Divulgou ainda centenas de depoimentos de exfuncionários de suas empresas demitidos sem receber seus direitos. Em vão.
Na ausência de explicação, fica a de Trump, dada na primeira entrevista depois de eleito: "O público não se importa". Ainda que sua eleição possa ser uma ameaça a multidões, dentro e fora do país, para um grupo suficiente de eleitores os benefícios pessoais decorrentes de sua ascensão superam danos coletivos. O presidente eleito traduziu melhor do que a sociologia de plantão o triunfo do individualismo.
A reação de Elizabeth e Trumka não é proporcional à velocidade com a qual se consolidou o assalto de Trump à base de ambos e parece insuficiente para estancálo. Na França, a Frente Nacional levou mais de 20 anos para se firmar naquele que foi o território eleitoral do Partido Comunista e depois, dos socialistas. O partido de Marine Le Pen se aproxima das eleições presidenciais de abril de 2017 sem depender de velhos rabugentos e nostálgicos da Guerra da Argélia. Colhe um terço de seus simpatizantes entre jovens de até 29 anos, outro terço entre eleitores de 30 a 50 anos e apenas 18% na faixa superior a 65 anos.
O avanço da extremadireita sobre a antiga base sindical francesa desmontou a crença de que a esquerda teria, senão o monopólio, a hegemonia no operariado, dada a liderança historicamente consolidada pela construção da legislação previdenciária e trabalhista. Nos Estados Unidos a ilusão moveu, até a semana passada, a esquerda do Partido Democrata, que sempre se valeu dos sindicatos para arregimentar não apenas votos, mas dinheiro. Ao contrário da legislação brasileira, a americana não proíbe a doação sindical a candidatos.
Estados Unidos e França são dois dos países que lideram a queda na taxa de sindicalização, tanto pela fuga do emprego industrial quanto pela incapacidade de as entidades evitarem o desmonte da proteção social, lá e no resto do mundo. Em 1979 os EUA tinham 20 milhões empregados em suas indústrias. Hoje são 12 milhões e apenas 10,8% deles são sindicalizados. A França tem um das mais baixas filiações sindicais da Europa, 7,7%, se comparadas à do Canadá (26,4%) Alemanha (18%), ou Itália (37,3%) para não citar os países escandinavos, que mantêm taxas acima de 60% graças à intermediação sindical de serviços públicos como saúde.
Se a taxa nacional de sindicalização é baixa nos Estados Unidos, sua presença no cinturão industrial ajudou a manter a região sob liderança democrata. O Brasil atravessou a era petista com uma taxa de sindicalização estabilizada em 17%, abaixo dos 40% do Uruguai e dos 30% da Argentina. É do país, desde 2014, o comando da Confederação Internacional de Sindicatos (CSI). Sob a presidência de João Felício, secretário de relações internacionais da CUT, a CSI congrega 180 milhões de sindicalistas em todo o mundo, entre os quais 8 milhões egressos da AFLCIO e 7 milhões da CUT.
Felício, um professor que chegou ao movimento sindical via Apeoesp, o gigantesco sindicato paulista da categoria, cita a ausência de negociação coletiva em 90% das categorias como a principal característica do sindicalismo americano, além do poder de fogo de grandes corporações, como a Nissan, em que as opções entre emprego e sindicalização são excludentes. O peso de negros e hispânicos não evitou o 7 a 1 de Trump no cinturão industrial, mas Felício ainda acredita que os interesses da base sindical evitarão a capitulação.
Protecionismo e a xenofobia abrem janelas para Trump na massa de trabalhadores brancos e legais da indústria, parece menos claro qual é a intersecção possível entre o presidente eleito e as categorias do serviço público federal. O expresidente da Câmara Newt Gingrich, republicano da Geórgia e conselheiro da campanha de Trump, contou ao repórter Evan Osnos, da "The New Yorker", que uma bandeira capaz de galvanizar o partido é o fim da estabilidade de emprego dos servidores públicos federais.
Nas análises mais otimistas da imprensa americana, a era Trump tem sido comparada àquela de Ronald Reagan, pela convergência nas propostas de redução de impostos dos mais ricos, desregulamentação financeira e diminuição dos gastos públicos. "Mas a percepção de Ronald Reagan de que as políticas que beneficiam os ricos e os grandes grupos puxa a renda de todos saiu de moda na era da riqueza desigual e dos salários estagnados", escreveu Nick Cote, do "The New York Times".
O populismo de Trump, nas análises mais pessimistas da imprensa americana, o aproxima de governos totalitários da Europa do entreguerras. Se é um neofacismo que está em gestação, parece marginal o papel a ser exercido pelos sindicatos.
Quatro vezes falido como empresário e bemsucedido em sua primeira tentativa de se eleger presidente da República, parece claro que Trump tem mais aptidão para a política do que para os negócios. A base política em gestação é de trabalhadores legalizados, de quaisquer cores, baixa instrução, e beneficiários de menor competição por emprego, além de pequenos e médios empresários desafogados de impostos. Como custa a ser sustentada, essa base política já foi precificada em mais inflação e juros.
Colunista do "The New York Times" e editor de uma revista conservadora, Reinham Salam foi um dos primeiros críticos a prever que o presidente eleito se transformaria numa liderança do novo "partido dos trabalhadores" em que a eleição repaginou os republicanos. Os correligionários do presidente eleito, notou o senador Mike Lee, "parecem mais desconfortáveis na sua presença do que no clube do 1%".
Elizabeth Warren, a senadora democrata que mais rapidamente entendeu o recado das urnas, resumiu numa frase a conquista do opositor: "As pessoas estão furiosas". No seu discurso, colocou no mesmo patamar de ódio ao presidente eleito os lobistas de Washington e os financistas de Wall Street, mas custa a crer que ambos perderão força. A senadora preferida dos sindicalistas parece acreditar que a radicalização do país sob Trump seja a saída para a retomada do protagonismo da esquerda ou do que restar dela depois do governo do PT ianque.